O original e a cópia
Continuar a ler...


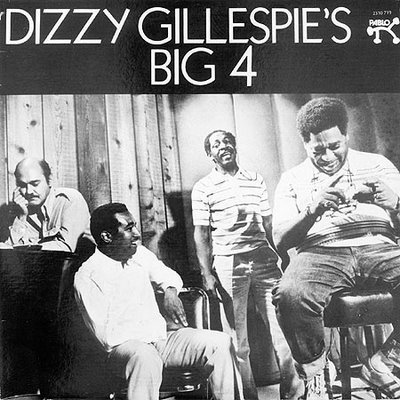
 Eu tentei apresentar uma explicação alternativa, que devo dizer estava, e continua a estar solidamente assente em observações empíricas. A minha teoria era a de que o Velho do Restelo representa os velhos do Restelo. A stôra olhou para mim com ar deveras ambíguo, assim a meio caminho entre cara de "este gajo está-me a gozar?!" e cara de "como é que este gajo passou da quarta classe?". Diria mesmo que a stôra se engasgou de tanta hesitação. Eu, vendo que ela não era de Lisboa (era de Viseu) pensei logo "devem faltar-lhe referências", e tentei pô-la ao corrente de que o Restelo era um bairro em Lisboa, mesmo ao pé de Belém, e que os velhos eram exactamente como Camões descrevia nos Lusíadas. Mais, no Restelo há um estádio de futebol, onde os velhos se reuniam semana sim, semana não, normalmente aos domingos à tarde, e se ela fosse lá vê-los ia perceber a minha teoria. Ora, se imaginarmos que o Restelo já era mais ou menos assim há quinhentos anos, mas que por não haver estádio de futebol os velhos se reunião à beira Tejo para ver partir as naus, então faz todo o sentido a teoria de que o Velho do Restelo representa o Velho do Restelo, qual metáfora qual carapuça. Por uma vez Camões resolveu não usar nenhuma figura de estilo fazendo disso uma figura de estilo. Já não me lembro como é que a estória acabou, mas tenho a leve impressão que a minha teoria não foi muito bem aceite. Aliás, só um ou dois colegas tão pastéis quanto eu é que podem ter captado a justeza da minha interpretação. Mas até se percebe, quem nunca soube o que é ver o Djão (lembre-se que era avançado do Belém) fazer uma fantástica desmarcação pela esquerda para logo o cativo do lado se levantar num grito "Qu'é-esta merda? Não há foras de jogo?!", quem nunca viu um sócio daqueles que não falha um jogo há trinta anos aplaudir de pé quando o Marítimo faz o 0-2 para depois, o mesmo sócio, exultar com a reviravolta do Belenenses (dois golos do Mladenov), quem nunca presenciou um jogo e em que a equipa da casa ganha por três a zero e ainda é apupada pelos sócios não pode nunca perceber o verdadeiro significado do Velho do Restelo.
Eu tentei apresentar uma explicação alternativa, que devo dizer estava, e continua a estar solidamente assente em observações empíricas. A minha teoria era a de que o Velho do Restelo representa os velhos do Restelo. A stôra olhou para mim com ar deveras ambíguo, assim a meio caminho entre cara de "este gajo está-me a gozar?!" e cara de "como é que este gajo passou da quarta classe?". Diria mesmo que a stôra se engasgou de tanta hesitação. Eu, vendo que ela não era de Lisboa (era de Viseu) pensei logo "devem faltar-lhe referências", e tentei pô-la ao corrente de que o Restelo era um bairro em Lisboa, mesmo ao pé de Belém, e que os velhos eram exactamente como Camões descrevia nos Lusíadas. Mais, no Restelo há um estádio de futebol, onde os velhos se reuniam semana sim, semana não, normalmente aos domingos à tarde, e se ela fosse lá vê-los ia perceber a minha teoria. Ora, se imaginarmos que o Restelo já era mais ou menos assim há quinhentos anos, mas que por não haver estádio de futebol os velhos se reunião à beira Tejo para ver partir as naus, então faz todo o sentido a teoria de que o Velho do Restelo representa o Velho do Restelo, qual metáfora qual carapuça. Por uma vez Camões resolveu não usar nenhuma figura de estilo fazendo disso uma figura de estilo. Já não me lembro como é que a estória acabou, mas tenho a leve impressão que a minha teoria não foi muito bem aceite. Aliás, só um ou dois colegas tão pastéis quanto eu é que podem ter captado a justeza da minha interpretação. Mas até se percebe, quem nunca soube o que é ver o Djão (lembre-se que era avançado do Belém) fazer uma fantástica desmarcação pela esquerda para logo o cativo do lado se levantar num grito "Qu'é-esta merda? Não há foras de jogo?!", quem nunca viu um sócio daqueles que não falha um jogo há trinta anos aplaudir de pé quando o Marítimo faz o 0-2 para depois, o mesmo sócio, exultar com a reviravolta do Belenenses (dois golos do Mladenov), quem nunca presenciou um jogo e em que a equipa da casa ganha por três a zero e ainda é apupada pelos sócios não pode nunca perceber o verdadeiro significado do Velho do Restelo.
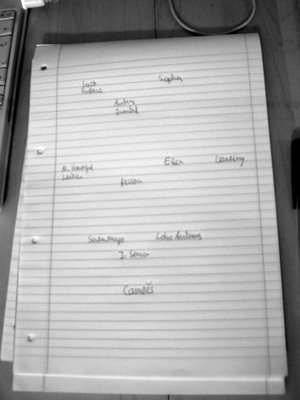
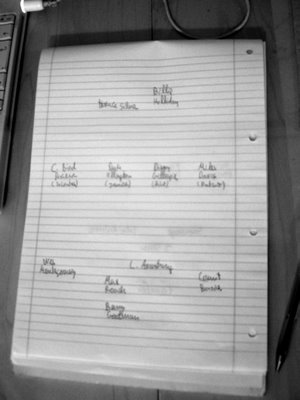

 Parece que sim?! Até nem gosto de vitórias na secretaria como até nem gosto dessa regra de não se poder recorrer aos tribunais civis (mesmo que seja em questões meramente desportivas). No entanto os regulamentos existem, estão em vigor e são iguais para todos (concorde-se ou não). O Gil Vicente não cumpriu com os regulamentos duas vezes, quando inscreveu mal o Mateus e quando recorreu para os tribunais civis. Sendo assim só tem mesmo é que descer de divisão. O Belenenses fica na primeira que é onde deve estar (e já agora aproveitem esta oportunidade, façam melhor do que a época passada, que não é todos os dias que se tem benesses destas).
Parece que sim?! Até nem gosto de vitórias na secretaria como até nem gosto dessa regra de não se poder recorrer aos tribunais civis (mesmo que seja em questões meramente desportivas). No entanto os regulamentos existem, estão em vigor e são iguais para todos (concorde-se ou não). O Gil Vicente não cumpriu com os regulamentos duas vezes, quando inscreveu mal o Mateus e quando recorreu para os tribunais civis. Sendo assim só tem mesmo é que descer de divisão. O Belenenses fica na primeira que é onde deve estar (e já agora aproveitem esta oportunidade, façam melhor do que a época passada, que não é todos os dias que se tem benesses destas). Faz agora um ano estava a percorrer as informações matinais na net, e, se não me engano ao passar pelo site d'A Bola sai um punho do ecrã direito direito a mim, levo um murro de que ainda hoje não me recompus: morreu José António. Na véspera estava a jogar uma peladinha com amigos, sentiu-se mal e teve uma crise cardíaca, fluminante, morte imediata, aos 47 anos.
Faz agora um ano estava a percorrer as informações matinais na net, e, se não me engano ao passar pelo site d'A Bola sai um punho do ecrã direito direito a mim, levo um murro de que ainda hoje não me recompus: morreu José António. Na véspera estava a jogar uma peladinha com amigos, sentiu-se mal e teve uma crise cardíaca, fluminante, morte imediata, aos 47 anos.